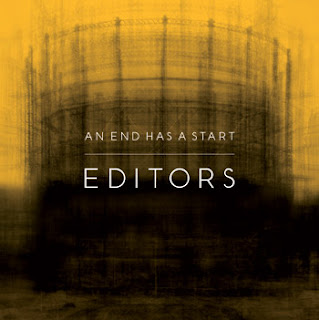quarta-feira, 31 de agosto de 2011
Biophilia
sexta-feira, 18 de março de 2011
The Gift: Explode


sexta-feira, 11 de março de 2011
Massive Attack: Heligoland


terça-feira, 17 de agosto de 2010
Dido: Safe Trip Home
Salientam-se algumas canções, as que acima enumerei, mas a verdade é que este álbum, no bom e no mau, não representa nenhum especial avanço.
Há que entender que "Safe Trip Home" é uma colecção de boas canções, apenas não o é de novas canções. É uma prova de que Dido não consegue fazer nada de mau, porque neste disco não há nada que piore, que represente uma queda. O que fica por saber é se é capaz de fazer mais do que já fez.
o vídeo de "It Comes and It Goes"
segunda-feira, 16 de agosto de 2010
Sia: We Are Born
o vídeo de "You´ve Changed"
domingo, 15 de agosto de 2010
Delta Goodrem: Delta
Relembremos que Delta Goodrem, cantora e pianista, iniciou a carreira musical em 2003 com "Innocent Eyes", que era um álbum de uma menina de 18 anos que demonstrava uma tremeda inclinação para a beleza, a sensibilidade, construindo uma pop que não era dançável, preferindo o lado intimista e orquestral, que acentava melhor com as suas tendências algo líricas. "Innocent Eyes" tinha o problema que muito se aponta a artistas tão novos, que é por vezes cair numa excessiva fragilidade, que mais não faz que expressar uma outra forma de angústia adolescente, que não deixa de o ser.
Tinha ainda 18 anos quando lhe foi diagnosticado um cancro, que a afastou dos palcos por algum tempo. A experiência da doença naturalmente verteu-se para a música, e em 2005 chegava "Mistaken Identity". Se por um lado se notavam atmosferas mais negras nas composições, o resultado estava longe de ser o melhor. O segundo álbum tinha mais de adolescente frágil do que propriamente o primeiro. Não era, de facto, um álbum a ser recordado.
É, por isso, um descanso, começar a ouvir o álbum. Sobre "Delta" disse-se que seria um álbum de música pop/dance, e "Bring Me Home" era prenúnico desse desastre. No entanto, a canção acabou por não integrar o alinhamento final, sendo arrumanda no cd-single de "In This Life"."
Na verdade, "Delta" não é um álbum de dança, é, aliás, um muito bom álbum pop, melhor do que "Innocent Eyes". Talvez "melhor" não seja a palavra indicada: mais maduro.
I´m not a girl who don´t know
E é bem verdade.
"In This Life", ao vivo
quarta-feira, 8 de abril de 2009
Amy MacDonald: This Is The Life
.
.
No entanto, parece-me que este é um álbum que merece referência. O próprio título, embora possa parecer um tanto pretencioso, é certamente muito explícito em relação ao objectivo da sua autora, e, devo dizer, parece-me que tal objectivo é atingido: a descrição de um determinado estilo de vida de uma determinada faixa etária (Pós-adolescente.).
Mas nesse processo (De descrição, entenda-se.) Amy MacDonald destaca-se por conseguir um tom analítico que não cai na predicabilidade de uma poser do género Avril Lavigne.
Parece-me que dentro deste conceito, MacDonald terá conseguido alguns picos de qualidade, que passam pela titletrack, por “The Youth Of Today” ou “Let´s Start a Band”. O estilo de escrita é depurado e desabrido (Isto diz-se?), por exemplo ao dizer “Maybe if you had a true point of view/ I would listen to you/ But it´s just your one-sided feelings/ They keep getting in my way/ And you don´t know a single thing/ About the youth of today/ Stayed in your opinion/ Making it ring nin my head all day…” (Youth Of Today).
Musicalmente, a sonoridade funde o rock simples/semi-acústico com um travo de folk provavelmente ancorado nas raízes pessoais (Quero eu dizer, o facto de ser escocesa.), com influências que remetem tanto para um certo estilo mais recente, do género Kate Walsh, e o inevitável contágio de Alanis Morissette, Jewel, Tori Amos, Fiona Apple ou Feist. Assim sendo, consegue, sem perder a coerência, momentos de maior frenesi como sejam “Mr. Rock and Roll”, “Run” ou “Let´s Start a Band” e outros mais deprimidos/melancólicos, “Footballer´s Wife”, “This Is The Life” ou “The Youth Of Today”.
Com ou sem rádio, fica-se à espera de mais notícias de Amy MacDonald, preferencialmente algo que não anule as qualidades deste álbum de estreia.
"Run"
"This Is The Life"
quinta-feira, 26 de junho de 2008
Madonna: Hard Candy
Depois de enveredar por uma linha de música mais madura iniciada em “Ray Of Light” em “American Life” e de ter trazido de volta o dancefloor à moda antiga com todo o estilo em “Confessions On a Dancefloor”, Madonna muda de matriz uma vez mais. E se os três referidos álbuns serão três bons exercícios pop, além dos três melhores (Pela ordem em que surgem.) da cantora, este novo “Hard Candy”, se não é o seu pior álbum, será apenas por existir “Erótica”.
Se há razão para louvar Madonna, e a esta ninguém pode fugir, é por nunca ter ido atrás de modas, e ter sempre iniciado ela própria as tendências no universo pop (Por alguma razão é chamada de rainha.). E em “Hard Candy” podemos mesmo falar de uma rainha convertida.
Em vez de ser criativa e de trazer alguma coisa nova á monotonia da música pop, Madonna revela-se Maria-vai-com-as-outras por seguir a muito em voga reminiscência hip-hop em que á pop se acrescentam uns toques de R&B e de funk e pela lista de convidados que apresenta: de Timbaland a Justin Timberlake.
Assim, e numa primeira análise, ouvir “Hard Candy” é ouvir Madonna, mas podia perfeitamente ser ouvir Rhianna ou a mais recente Nelly Furtado. É a mesma estética, a mesma repetição de conceitos destinados ao sucesso de que Madonna, quanto mais não seja, apenas por ser Madonna, já não precisa.
Depois, relativamente ás canções, há que dizer que estas também são, no geral, desinteressantes e algumas mesmo más.
“4 Minutes” é provavelmente a melhor canção, e dispensava completamente Justin Timberlake que não está, basicamente, a fazer nada. Em tudo o resto, a canção não foge ás tendências hip-hop nem ao esforço por ser rádio-friendly, pelo que resulta bem como primeiro single.
“She´s Not Me”, apesar de por vezes roçar uma certa histeria, podia vir de uma fase after-hours de “Confessions On a Dancefloor”, e segue uma linha mais ligada à electrónica.
Sobre “Devil Wouldn´t Recognize You”, idem aspas, apenas se acrescenta que é quase uma balada.
As restantes oito canções não se aproveitam, são de uma imaturidade e predicabilidade inesperadas. Resultarão bem certamente nos tops e nas discotecas da moda, mas não são suficientes para ficar para a história, e não permitem que o álbum seja bom.
Veredicto: 9/20
domingo, 11 de maio de 2008
A Naifa: Uma Inocente Inclinação Para o Mal
Isto de juntar a pop com o fado num país de puristas, onde alguns fadistas mais inovadores como Mísia ou Cristina Branco já são rotuladas de não-fadistas, é algo que não lembraria a alguém que goste de jogar pelo seguro.
No entanto, há que dizer que a esta junção pouco segura, há que acrescentar que foi bem-sucedida: os Naifa são uma das melhores bandas portuguesas da actualidade.
Depois da estreia com “Canções Subterrâneas”, chega “Três Minutos Antes da Maré Encher”, um álbum que pontuava em relação ao primeiro por uma ainda maior profundidade, e por um muito maior á-vontade nas movimentações pouco ortodoxas que os definem.
Veredicto: 18/20
domingo, 27 de abril de 2008
Portishead: Third
"Esteja alerta para a regra dos três
O que você dá retornará para você
Você só ganha aquilo que você merece
Essa lição você tem que aprender..."
sexta-feira, 21 de março de 2008
Goldfrapp: Seventh Tree
segunda-feira, 17 de março de 2008
Coco de Colbie Caillat
De facto, muitas vezes, a promoção que se faz de uma pessoa só a leva a ser prejudicada. O mito que se cria á volta de tanta gente acaba por lhes ser fatal, quando não conseguem corresponder.
Isto acontece com Colbie Caillat.
Dela, contam aquela história tão típica como desinteressante: a da menina que chegou ao mundo da música por acaso. Especificamente, Colbie fez upload de uns videos seus no YouTube, e alguém descobriu a sua fenomenal voz e convidou para gravar um álbum onde figuram muitas das grandes canções do ano.
sábado, 16 de fevereiro de 2008
Annie Lennox: Songs Of Mass Destruction
domingo, 3 de fevereiro de 2008
Vanessa Carlton: Heroes and Thieves
Mas, se "Be Not Nobody" esse primeiro álbum, era quase perfeito, "Harmonium", o seu sucessor era uma evolução muito insatisfatória, apesar de constituir, se por si só, uma excelente e exemplar peça pop afastada de preocupações com vendas e tudo isso.
"Heroes and Thieves" é uma tentativa de fazer algo novo que não é nem mal nem bem sucedida. Se, por um lado, encontramos aqui canções fluidas e leves (Contrariando as tendências mais complexas dos primeiros dois álbuns.), por outro lado, a sonoridade ainda nos remete para a Vanessa dos dois primeiros álbuns- a simplicidade compositiva não altera a utilização dos instrumentos, que se mantêm dentro do que Vanessa costuma fazer.
Outra das curiosidades maiores neste álbum é a mesma de "Harmonium". Nesse segundo álbum, Calrton compunha algumas canções com Stephen Jenkins (Além de produtor do álbum, era o seu namorado na altura.), mas era estranho ficar-se com a sensação de que Vanessa conseguiria isso sozinha. Em "Heroes and Thieves", Carlton assina as canções sozinha ou na companhia de Jenkins ou Linda Perry, mas estas colaborações parecem inúteis. E isso é estranho, porque Perry já fez Christina Aguilera cantar algo belo em "Beautiful".
As canções são boas, não são assim tão inovadoras, mas são boas. "Hands On Me" é um bom exemplo da génese do álbum, tem uma boa construção instrumental sobre uma composição fluida, com a voz a pontuar numa utilização entre a agressividade do primeiro álbum e a excessiva inocência no segundo. O que resulta bem, tendo em conta a voz muito ameninada que Vanessa tem.
"Nolita Fairytale" é uma canção interessante, mas uma escolha errada para primeiro single (Isto é provavelmente uma imagem de marca em Carlton.), uma vez que, apesar de até nem ser má, não apresenta diferenças tão consideráveis para poder evidenciar um dos objectivos do álbum, precisamente a diferença.
"Spring Street" teria sido uma melhor opção, uma canção idílica e etérea, como poucas de Carlton.
"The One" é uma canção razoável, mas um dueto péssimo: mal se dá pela presença de Stevie Nicks. Muito má ideia.
É um pouco assim o terceiro álbum de Vanessa Carlton. Do quarto, há a esperar que seja abissalmente diferente. Mais um álbum com diferenças tão pequenas será fatal a Carlton e a nós. Uma sugestão: que tal ser produzida pelo Patrick Leonard? O melhor álbum da Madonna foi produzido por ele...
sábado, 26 de janeiro de 2008
Sia: Some People Have Real Problems

“Some People Have Real Problems” sera, ao que parece, uma decisão definitiva de qual o rumo a tomar. E é, desde já, a escolha acertada. Todos, incluindo Sia, percebemos que a pop dançável não é para ela. A pop melancólica, complexa e densa que inicia em “Colour The Small One”, no entanto, já é uma área em que se pode mover á vontade, e com distinção. E assim prossegue, naquele que é o terceiro álbum de originais.
Começa com uma das melhores canções do álbum, senão mesmo a melhor: “Little Black Sandals”. O esquema instrumental é simples e sem pretensões, é uma das músicas mais melódicas, e o facto de ser também uma das mais emotivas não prejudica.
Outras canções de referência serão “Lentil”, que já se dera a conhecer em “Lady Croissant”, com a sua sonoridade valseante, e os arranjos simplórios mas coesos, que ora acompanham ora guiam a voz de Sia. Parece, principalmente no final, o protótipo de uma boa canção pop. Se Christina Aguilera ou Rhianna não estivessem tão preocupadas com as vendas, talvez soassem assim.
“The Girl You Lost To Cocaine” é a composição mais agressiva, mas ao mesmo tempo a mais feminina, a lembrar os tempos de “Whatever” de Aimee Mann, ou o “Under Rug Swept” de Alanis Morissette.
“Beautiful Calm Driving”, apesar de soar por vezes a uma versão menos trágica de “Breathe Me”, vale pelo vale, e é uma canção simplesmente bela, com tudo no seu lugar: da colocação da voz, á sintonia da letra com a música, aos arranjos.
“Day Too Soon”, tal como “Lentil”, parece ser um exemplo de como devia soar a pop, e, apesar de por vezes parecer exageradamente sentimental, resulta bem.
Encontrado o bom caminho, esperemos pelo quarto álbum de Sia. Quanto ao terceiro, tem força para igualar o segundo, apesar de não ter genica para o ultrapassar.
Gostaria só de realçar o facto de nenhum dos álbuns de Sia estar publicado em Portugal. Começa a ser irónico como é que todo o lixo que a pop tem é publicado worldwide e o pouco que a pop tem de bom, fica-se pelo seu país de origem… Muito bonito.
Veredicto: 17/20
quinta-feira, 20 de dezembro de 2007
Animal Collective: Strawberry Jam
Joss Stone: Introducing Joss Stone
Veredicto Final: 15/20